Palestra de Abertura da XXVI Jornada de Psicologia da UNOESTE*
quarta-feira, 3 de julho de 2013
Morte e Luto na Contemporaneidade: notas para uma Palestra
Considerações Psicanalíticas sobre a Morte e o Luto:
Palestra de Abertura da XXVI Jornada de Psicologia da UNOESTE*
* Texto referente à palestra proferida em Presidente Prudente, no primeiro semestre de 2013. Gostaria de agradecer ao convite da Coordenadora do Curso de Psicologia Profa. Regina Gioconda de Andrade.
Palestra de Abertura da XXVI Jornada de Psicologia da UNOESTE*
Embora seja um horizonte fundamental da vida
e do ciclo vital humano, a morte é um fenômeno de estudos relativamente recente
de estudos psicológicos e interdisciplinares na área de saúde. Tendo estado por muito tempo velada e mesmo
excluída do âmbito social e cultural, a questão da morte ressurge com ampla
evidência no cotidiano, evidenciando a fragilidade de nosso desamparo
contemporâneo.
Érico Bruno
Viana Campos**
A cultura e a sociedade contemporâneas são marcadas pela ambiguidade:
multiplicidade de parâmetros, falência de instituições, relativização de
normas, infinitude de espaços, rapidez do tempo, fragilidade dos vínculos,
exarcebação dos conflitos e, sobretudo, explosões de violência. Na mesma época
em que os avanços da biotecnologia e da medicina nos levam a crer na
possibilidade da imortalidade, também se encontra o mais cruel descaso com a
vida humana. Em meio a tudo isso, o fascínio com os limites entre vida e morte
emerge com renovado interesse.
Não é à toa que é nesse mundo pós-moderno que a questão da morte saiu do
âmbito da tradição e dos costumes para cair propriamente no âmbito do saber
científico e dos cuidados à saúde. Para tanto, precisou romper tabus dentro da
própria tradição médica higienista e sanitarista que marcou a nossa
modernidade.
A proposta desta comunicação é
apresentar o campo da tanatologia e da psicologia da morte, discutindo suas
implicações no contexto da subjetividade contemporânea.
Por que falar de morte ainda é difícil?
A questão da morte é um assunto sagrado nas mais variadas culturas
humanas. Como tudo que é sacro, inspira fascínio e medo, promove rituais e
tradições, instaura tabus. Chama a atenção que a subjetividade moderna, marcada
pelo racionalismo e o universalismo, não tenha conseguido se apropriar da
questão da morte. Pelo contrário, nossa modernidade excluiu a morte como signo
do fracasso da vontade e poderes humanos.
Foi só a partir da crise da modernidade que a filosofia se permitiu tomar
a angústia diante da morte e a necessidade de transcendência da vida como uma
questão realmente fundamental de nossa condição humana. Foram os
existencialistas, imbuídos da melancolia que acompanhou as grandes guerras do
século XX, que resgataram o lugar da morte como horizonte constitutivo da
existência humana. De Heidegger e Sartre, passando por Camus, que afirmou o
suicídio como questão filosófica fundamental, esses autores puderam mostrar que
a questão do sentido da vida era o que havia de essencial na condição humana e
que esse sentido era fruto do limite dado pela morte. Em outras palavras, a
vida só vale à pena ser vivida e só encontra sentido porque está o tempo todo relativizada
e posta em perspectiva pelo vazio e pelo limite da mortalidade. A imortalidade
torna a vida insignificante e inumana, como tão bem ilustra a estória do conde
Fosca, no romance Todos os Homens são
Mortais, de Simone de Beuvoir.
No entanto, mesmo com essas preciosas indicações de filósofos e
humanistas, demorou ainda certo tempo para que os profissionais de saúde se
interessassem verdadeiramente pelas questões da morte. A medicina moderna,
modelo e matriz de todas as profissões e saberes na área de saúde, por muito
tempo ignorou a importância da morte ou, mais precisamente, encarou-a como uma
inimiga que deveria ser vencida e superada a qualquer custo. Isso levou a uma
verdadeira exclusão da morte do âmbito social, fazendo com que a morte ficasse
relegada ao silêncio desconfortável e confinada ao âmbito asséptico e impessoal
dos hospitais. Durante boa parte da escalada de conquistas da medicina
científica, de metade do século XIX até a metade do século XX, a morte foi
vista como algo a ser excluído e vencido, ou, em caso de derrota, como algo a
que cabia resignação, de forma íntima, digna e silenciosa. Somente a partir dos
anos 60 do século XX é que essa posição começou a mudar, por meio de pioneiros
na humanização da saúde que trouxeram justamente a necessidade de repensar o
lema da saúde a qualquer custo e a dar espaço para o acolhimento das angústias
envolvidas nos processos de elaboração dos lutos. Esse movimento levou à
criação e consolidação do campo da Psicologia da Morte e da Tanatologia.
Psicologia da Morte e Tanatologia
A Psicologia da Morte é uma área de aplicação e de estudos em psicologia
voltada para as questões envolvidas na morte como etapa do ciclo vital do
desenvolvimento humano e para os processos psíquicos de elaboração dos lutos em
nível individual e social. Portanto, consiste em um recorte temático que atravessa
as áreas mais tradicionais das Psicologias do Desenvolvimento, Clínica,
Hospitalar e Social em uma vocação interdisciplinar com outros campos e
profissões da Saúde compondo, então, uma sub-área da Tanatologia.
A Tanatologia, por sua vez, iniciou-se como um ramo da medicina
(tanatologia forense) com o propósito de estudar a morte e suas consequências
em uma abordagem clínica e anátomo-fisiológica. Com o tempo, foi se tornando um
campo mais interdisciplinar, com aportes da enfermagem, das ciências sociais,
da psicologia, etc., incluindo outros aspectos além dos métodos e concepções da
medicina tradicional.
A área teve como um dos seus pioneiros o médico canadense William Osler,
que publico o livro A Study of Death,
ainda em 1904. Mas os estudos intensificaram-se mesmo após a II Guerra Mundial.
Os principais pioneiros nesse campo foram os médicos Feifel, com The Meaning of Death (1959), e
Kübler-Ross, com Sobre a Morte e o Morrer
(1969). A partir dos anos 1970, a crescente interdisciplinarização e ampliação
do campo da saúde trouxe novos aportes, principalmente do campo da enfermagem,
uma vez que as questões dos cuidados dos pacientes terminais e da atenção aos
familiares acabavam sempre recaindo
sobre os profissionais dessa área.
No Brasil, os textos começaram a ser publicados e as práticas a ganhar
evidência a partir dos anos 1980, derivados do trabalho da crescente área da
psicologia hospitalar e da saúde. Nesse contexto, Wilma Torres criou o programa
pioneiro de Estudos e Pesquisas em
Tanatologia, na Fundação Getúlio Vargas. Um pouco depois, foram criados
dois laboratórios que até hoje são centros de referência: o Laboratório dos Estudos sobre o Luto, na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (LeLu – PUC/SP), por Maria Helena
Pereira Franco, e o Laboratório de
Estudos sobre a Morte, da Universidade de São Paulo (LEM – IPUSP), por
Maria Júlia Kovács.
Os Estágios de Reação à Morte
Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça radicada nos EUA, realizou
importantes estudo com doentes terminais, sendo pioneira na abertura de espaços
de discussão sobre a morte no contexto dos hospitais, por meio de seminários
que funcionavam no modelo de grupos de encontro focados na discussão da
experiência de luto e morte. Nesse trabalho, acabou por sistematizar uma escala
de estágios de reação à morte que se tornou bastante popular na psicologia
médica e, depois, no senso comum. Trata-se dos estágios pelos quais os
pacientes passam desde o momento em que tomam conhecimento do prognóstico de
alta possibilidade de mortalidade. Esses estágios não se apresentam
necessariamente em ordem cronológica ou se apresentam de forma exclusiva na
experiência do paciente, mas costumam se desenrolar ao longo dessa ordem no
processo de aceitação da morte. São eles: negação,
revolta, barganha, depressão e aceitação.
A negação é o primeiro estágio, que diz respeito à reação de negar a
realidade do fato da morte, considerando-a uma impossibilidade, uma falsidade,
um exagero, um erro de diagnóstico, uma falta de fé; enfim, qualquer coisa que
ateste que a morte não é um fato imperativo e inevitável. Assim, vai desde a
negação mais imediata, presente em frases como “Não. Não pode ser!” ou “Vocês
estão brincando comigo!”, até posições mais resistentes e duradouras em que a
pessoa desenvolve pensamentos compulsivos e mesmo delirantes na busca de uma
cura. Trata-se de uma reação irracional contra o susto e a perplexidade diante
da morte.
A revolta aparece quando finalmente o sujeito reconhece que a
iminência da morte é um fato e que, como se costuma dizer de forma mais
popular, “cai a ficha” de que se vai provavelmente morrer e precisa se lidar
com isso. Esse reconhecimento leva a uma grande revolta que se expressa na
famosa frase “Por que eu?”, que nada mais expressa do que a necessidade humana
de encontrar sentido naquilo que não há. É nesse estágio que o sujeito começa a
se indagar sobre o que fez de bom ou de mau em sua vida que pode ter sido o
motivo para a punição máxima da morte. Inicialmente essa revolta é pura dor e
desespero. Depois, ela vai se organizando na forma de um raciocínio mais ou
menos racional em busca de causas, motivos e responsáveis. Esse recenseamento
moral da vida leva a algumas conclusões que serão então mobilizadas em um
processo de barganha com a morte,
consigo e/ou com Deus. Esse já é o próximo estágio, em que a pessoa então faz
uma negociação mais ou menos consciente para ganhar mais tempo. É quando se
fazem as promessas e pedidos, expressos nas frases do tipo “Gostaria de viver
até a formatura dos meus filhos” ou “Não me deixe morrer antes do meu
aniversário!”. O estágio de barganha pode ser bastante longo e complexo, pois,
a cada nova articulação de sentido e tentativa de resolução, o sujeito pode
voltar a pontos de maior revolta ou de negação, descontruindo acordos e propondo
novos. Mas, invariavelmente, a realidade imperativa da morte se impõe e essas
negociações ilusórias acabam por se esgotar. É aí, então, que o sujeito cai na
tristeza e na depressão.
Somente nesse quarto estágio é que
se considera que o processo de luto se instaura efetivamente. No estágio de
depressão há um recolhimento introspectivo no qual o sujeito elabora
solitariamente e silenciosamente a perda de si mesmo. O processo de luto muitas
vezes se completa e leva o sujeito ao quinto e último estágio, a aceitação, mas pode ocorrer uma
suspensão e congelamento do processo de luto, o que é chamado de luto congelado.
No luto congelado, o processo de luto é adiado e diferido, não encontrando
resolução e não deixando também o sujeito se desligar do objeto de amor perdido.
Nesses casos é que normalmente o sujeito entra em um estado depressivo
patológico que pode se cronificar e persistir por muito tempo. É nesse estágio,
portanto, que o processo costuma paralisar, levando à necessidade de um
acompanhamento mais cuidadoso por parte dos familiares e amigos que pode
incluir o apoio de profissionais de saúde e até de acompanhamento
psicoterapêutico. De qualquer forma, quando o processo de luto é finalizado,
chega a aceitação da condição de morte iminente, na qual o sujeito se resigna e
começa a se desligar dos objetos em vida. Nesse estágio há um certo alívio por
meio de um sentimento de liberdade e de transcendência, o qual possibilita ao
sujeito concluir seus vínculos e sua história pessoal. Esse é o momento
propriamente de despedida, que quando não é alcançado ou efetivado, deixa um
grande ressentimento e sentimento de culpa nas pessoas.
Os estágios foram inicialmente
definidos para descrever o processo dos pacientes em relação à própria morte,
mas acabam por compreender a dinâmica do processo de luto como um todo, o que
envolve também familiares e cuidadores e também situações de perda que não
remetem diretamente à morte, tal como o término de uma relação, a mudança de
emprego ou de cidade e assim por diante.
História Social da Morte
Outro autor que é referência fundamental na instauração do campo da
Tanatologia é o historiador social francês Philippe Ariés, que descreveu, em
sua História da Morte no Ocidente
(1977), algumas representações sociais da morte na passagem da idade média para
a modernidade. Esse trabalho, por sua vez, é um contraponto necessário de sua
análise da constituição social da infância e da família na cultura ocidental
moderna. A tese do autor é que a constituição da infância como categoria social
própria da modernidade é simultâneo à desvalorização da tradição e do
enraizamento coletivo próprio da sociedade feudal. A infância passou a ser
valorizada na medida em que a família patriarcal foi se tornando nuclear e
apartada das grandes balizas da tradição. O amparo que os sujeitos encontravam
no passado e na tradição passou a ser compensado por um investimento nas gerações
futuras. No que propriamente nos interessa, cabe indicar que isso se deu
concomitantemente à desvalorização de um lugar social para a morte que era
resguardado nas culturas tradicionais como a cultura feudal da idade média
ocidental. Essa análise levou o autor a propor certas representações sociais da
morte em nossa cultura ocidental. Representações sociais são conjuntos de
ideias, crenças e conceitos próprios de um grupo social que servem para
orientar suas interações e explicar os fenômenos cotidianos. São uma espécie de
teoria prática do senso comum, mas diferentemente das representações mentais
clássicas, que são individuais, essas são fruto da interação social e se
consolidam na forma de concepções propriamente histórico-culturais.
Ariés faz um extenso apanhado da cultura do período feudal, resgatando a
história dos costumes e do cotidiano no tocante aos rituais ligados à morte. Na
sua descrição, ressalta que a morte era uma figura onipresente no contexto da
cultura medieval. Além da onipresença da moral religiosa, com sua ideia de
julgamento final e de salvação pela fé, e das imposições reais da realidade que
deixavam a vida humana muito precária naqueles tempos (epidemias, fome,
guerras, desastres naturais), o mundo feudal possuía uma série de tradições,
embasadas na estrutura da família patriarcal, que davam amparo e sentido social
à experiência da morte. A morte era um verdadeiro “acontecimento social”. Os
moribundos ficavam em casa, sob os cuidados da família, recebendo visitas de
parentes e agregados por vários dias, em que tinham a possibilidade de elaborar
e ressignificar os vínculos. Os rituais religiosos e comunitários (missa, cortejo,
homenagens, etc.) tinham um peso significativo. Enfim, a experiência era
pública, coletiva e simbólica. Isso fazia da morte um acontecimento trágico,
doloroso, mas parte necessária da vida cotidiana humana, o que configura uma
representação da morte domada ou contida por amarras e ritos sociais.
Com o fim da idade média e início da modernidade, as amarras tradicionais
e coletivas que amparavam a morte começaram a progressivamente se perder. Começou
a prevalecer uma visão individualista e racionalista de sujeito, levando a uma
restrição cada vez maior do campo dos afetos para a intimidade das famílias. Isso
fez com que a questão da morte passasse de um âmbito mais público para a
dimensão mais restrita da privacidade familiar. A expressão afetiva foi
bastante excluída da dimensão pública na primeira modernidade, que foi extremamente
marcada pelo racionalismo e universalismo. Mas isso não levou, imediatamente, a
um esvaziamento ou desconsideração dos processos de luto e da importância simbólica
da morte para a vida humana. Pode-se dizer que durante o Renascimento e o
Iluminismo, ou seja, até o final da idade moderna clássica (final do século
XVIII), a morte continuou sendo considerada parte constitutiva e essencial da
condição humana, mas houve um deslocamento progressivo dela do âmbito público e
coletivo para o privado e familiar. Esse progressivo movimento de tornar a
vivência da morte singular e afetiva levou, na primeira metade do século XIX,
por meio do movimento romântico, a um período de exacerbação e valorização da
morte. Esse é o período em que a melancolia, o sofrimento pelo amor impossível
e a idealização da morte foram extremamente valorizados, em especial na
literatura.
Porém, com a constituição da medicina científica e seu progressivo avanço
ao longo do século XIX, a questão da morte foi sendo escamoteada do domínio
público e ficando cada vez mais restrita ao dispositivo por excelência da
medicina, o hospital geral. Isso fez com que da segunda metade do século XIX
até a primeira do XX passasse a imperar uma nova figura da morte: a morte interdita. Essa é a representação
social que impera durante o auge do domínio do saber e da prática médica sobre
o campo da saúde. Nela, a morte tem um caráter totalmente negativo. Como
apontamos anteriormente, a morte aparece como uma derrota e uma vergonha, que
precisa ser excluída da visibilidade social e restrita ao âmbito das
instituições hospitalares. Mesmo ali, no hospital, a morte se torna um tabu.
Não cabe ao médico falar dela, no máximo comunicar com eufemismos; não cabe ao paciente
saber sobre ela; ninguém pode falar sobre o assunto, pois traz angústia e
mal-estar. Essa postura é a que ainda domina o nosso senso comum, em que se
acha que o paciente em risco de vida não tem direito de saber sobre sua
condição, pois isso apenas irá deixa-lo mais deprimido, desesperado e
fragilizado. Trata-se do famoso pacto do silêncio em torno da morte, que deixa
todos reféns do mal-estar do não-dito e a um passo do luto congelado. É a
principal causa do ressentimento posterior de não poder ter se despedido, pois
não se podia falar a partir da condição reconhecimento da inevitabilidade do
fim.
Foi essa visão da morte como derrota, vergonha, mal-estar, que deveria
ser combatida a qualquer custo, própria da representação da morte interdita,
que levou ao movimento de rehumanização das questões em torno do luto e dos
cuidados à saúde de pacientes terminais e em risco de vida que culminou na área
de Tanatologia e de Psicologia da Morte, cuja elaboração levou a uma
consideração mais ampla da morte como parte do ciclo vital do desenvolvimento
humano.
Morte, Desenvolvimento e Sofrimento Humano
A Psicologia da Morte foi
responsável pela introdução das discussões sobre a morte como horizonte do
ciclo vital humano. Isso se deu de diferentes maneiras e em diferentes
perspectivas teóricas e problemáticas práticas. No geral, podemos dizer que
atualmente se considera que a integração do medo da morte à estrutura de
personalidade é uma parte necessária no desenvolvimento humano. Do mesmo modo,
entende-se que conflitos na elaboração desse processo contribuem para a
produção se sintomas e sofrimento psíquico. Nesse sentido, mais do que sintomas
pontuais ligados a situações ou objetos específicos, entende-se que a
elaboração da perda de objetos primordiais de identificação é parte importante
da estruturação da própria personalidade do sujeito. O enfrentamento da morte é
uma experiência que recebe diferentes significações, interpretações e destinos
a depender do momento do desenvolvimento psíquico, por isso deve-se considerar
as peculiaridades específicas de cada período do desenvolvimento e as
circunstâncias da morte para que se tenha uma compreensão mais abrangente de
suas repercussões na família e no meio social em que a pessoa está (ou estava)
inserida. Embora os níveis de simbolização e pensamento possam ser diferentes a
depender do momento do desenvolvimento, há algumas características comuns a
todo processo de enfrentamento de questões de vida e morte. Em geral,
entende-se que o processo de morrer leva a pessoa a regredir a ideais e
relações predominantemente infantis e a um modelo de resposta emocional
infantil, o que serviria como defesa contra a percepção da ameaça de extinção. Nesse
sentido, a necessidade de superar a morte consistiria o principal motivo para o
desenvolvimento da cultura humana, ou seja, o impulso criativo humano que
origina a cultura é motivado por uma necessidade de não ser esquecido. Em
outras palavras, é o clássico adágio de que as pessoas morrem, mas os símbolos
permanecem, de forma que é preciso deixar um legado reconhecido pelos outros (“uma
árvore, um livro, um filho...”).
Embora tenha se desenvolvido por muito tempo à parte das discussões da
Tanatologia e da Psicologia da Saúde, a Psicanálise toma as questões sobre a
morte como um aspecto central de sua concepção de homem e traz uma série de
contribuições importantes para a compreensão dos processos psicodinâmicos
envolvidos na elaboração da morte de si mesmo e dos outros. Nessa perspectiva,
a morte também é entendida como horizonte da vida, condição de nosso desejo e
fonte última de nossas angústias, mas, muitas vezes, essas contribuições não
são devidamente compreendidas. Isso se dá porque a questão da elaboração da
perda é tão central para a compreensão psicanalítica de homem que os
psicanalistas não se preocuparam em desenvolver uma teoria mais específica
sobre as perdas reais e efetivas que as pessoas precisam enfrentar em situações
emergenciais. A psicanálise desenvolveu-se tradicionalmente como uma
psicoterapia “profunda”, isto é, como uma técnica que visava abordar as
fantasias e construções imaginárias que organizam a personalidade geral do
indivíduo. Nesse sentido, costumava-se dar pouca importância para questões mais
imediatas da vida, entendendo que um sujeito adulto teria condições mínimas de
lidar com suas próprias limitações e castrações. Foi só com a ampliação da
escuta analítica para outros enquadres e demandas institucionais, como a
psicologia hospitalar e da saúde, que a questão do luto diante da morte efetiva
e seu manejo passou a ser enfocado. Talvez por essas razões ainda se encontre
poucos trabalhos de cunho psicanalítico na área de psicologia da morte.
O medo da morte classicamente foi tratado em psicanálise como análogo à
angústia de castração, portanto fruto de deslocamento do desejo sexual. Do
mesmo modo, costumava-se dizer que no inconsciente não haveria representação da
morte, o que justificaria o desinteresse pelo tema. Contudo, no final de sua
obra, Freud passou a reconhecer a importância da morte na constituição da
personalidade, por meio da hipótese da pulsão de morte como o mais fundamental
da pulsão.
Assim, podemos entender a morte como uma realidade presente desde o
nascimento, que desperta numerosas fantasias inconscientes e as correspondentes
defesas contra elas. A partir disso, podemos entender que a abordagem
psicanalítica tem pelo menos três contribuições importantes para a essa área. O
primeiro é referir as representações sobre a morte e a perda ao registro do
desejo inconsciente, revelando a riqueza da vida de fantasia em torno das
significações e sentidos da morte. Isso possibilita uma grande ampliação da
compreensão do escopo da temática da morte em nossa vida mental. O segundo é
que a definição das fantasias conscientes e inconscientes que estão
relacionadas à perda dos objetos de desejo e da própria vida se organizam em
função de diferentes lógicas de simbolização que estão atreladas a diferentes
modalidades de angústia. Assim, uma fantasia em relação ao objeto pode estar
marcada pela significação da castração das possibilidades desejantes do
sujeito, por referir aos seus princípios morais, mas também pode significar
também um sentimento de ameaça da integridade da unidade da experiência mental,
sendo vivida como uma cisão e fragmentação do sentimento de identidade, por
exemplo. Por fim, essas diferentes modalidades de relação com o objeto são a
base para pensar a própria gênese da estrutura de personalidade como um
todo. Para a psicanálise, a
identificação com o objeto materno e sua posterior perda são fundamentais para
a constituição de uma unidade egoica, ou seja, um núcleo de identidade psíquica
que se refere ao sentido de “eu”. Portanto, para a psicanálise, a identidade se
constitui por meio da relação com o outro e o luto pela perda desse objeto
primordial é o que origina a nossa capacidade de simbolizar, pensar, nomear;
enfim, desejar!
Desse modo, para a abordagem psicanalítica, a elaboração do luto é
condição fundamental para a constituição não só da unidade psíquica, mas também
da diferenciação entre o eu e a realidade objetiva e compartilhada. Isso quer
dizer que a psicanálise entende que nossa condição de seres simbólicos,
desejantes e propriamente humanos depende de transcender o registro natural por
meio da capacidade de simbolização que, paradoxalmente, depende da castração e
da perda do objeto para se instituir. A elaboração do luto pelos objetos
primordiais é o que enseja a entra no mundo propriamente simbólico e cultural
humano, de forma que só a elaboração do luto pela perda do objeto permite
encontrar novos destinos para o desejo. Em outras palavras, a psicanálise
entende que nossa capacidade de transcendência da condição natural em direção à
cultura – alçar o sublime, ou sublimar – é fruto da elaboração da nossa
melancolia originária. Perdemos o seio materno e aprendemos a falar, com isso
ganhamos um mundo de símbolos que passa a ser nosso próprio meio ambiente! Não
é à toa que na tradição artística sempre se associou a capacidade de criar com
a possibilidade de elaborar a dor em algo sublime, que comunica e nos toca por
sua mais absoluta singularidade.
Esse percurso permite entender que na Psicanálise a questão da morte se
torna uma analogia para conceber a gênese do desejo e do sujeito, por meio de
um processo de elaboração do luto pela perda do objeto originário. Este
processo ocorre por meio da identificação com o objeto materno e expressa sua
angústia característica, a angústia pela perda do objeto, em um momento da
gênese da personalidade que se costuma chamar de narcísico, em referência ao mito grego do apaixonamento para com a
própria imagem refletida.
Há alguns modelos na teoria psicanalítica que definem a dinâmica própria
do narcisismo, tais como a concepção
de Freud de uma identificação narcísica na melancolia, a concepção de Klein de elaboração
da posição depressiva e a concepção de Lacan da castração materna como condição
da desilusão narcísica. Não nos interesse no escopo desta comunicação
aprofundar esses detalhes. Basta entender que os diferentes momentos da vida
envolvem um série de perdas constitutivas naturais e necessárias, que se
organizam em torno de alguns conflitos estruturantes da personalidade.
Nesse sentido, Judith Viorst, em
seu livro Perdas Necessárias (1986),
enumera os quatro tipos de perdas que passamos ao longo da vida e que, do ponto
de vista psicanalítico, podem ser consideradas como:
·
Narcísicas
Primárias: perdas relativas ao afastamento do corpo e do ser da mãe, e da
transformação gradual em um ser à parte;
·
Edípicas:
perdas relativas ao confronto com as limitações do nosso poder e potencial, e
relativas ao ato de ceder ao que é proibido e ao que é impossível.
·
Narcísicas
Secundárias: perdas ligadas à renúncia dos sonhos ou dos relacionamentos
ideais, a favor da realidade humana das conexões imperfeitas, e também as perdas
múltiplas da segunda metade da vida - a perda final, o abandono, a desistência.
A Morte na Cultura Pós-Moderna
Além de contribuir para a compreensão dos aspectos
psicodinâmicos, a Psicanálise também possibilita uma compreensão da dinâmica
presente nas representações sociais da morte na atualidade. Segundo Joel Birman,
em seu livro Mal-Estar na Atualidade
(2001), a subjetividade contemporânea é marcada por um ideal performático
próprio das relações narcísicas da sociedade do espetáculo. Partindo da
discussão nas ciências humanas sobre a pós-modernidade como forma própria da
subjetividade contemporânea, esse autor chega a uma interpretação dessa
condição de fragilidade e fluidez identitária, falta de segurança e confiança
nas instituições, pluralidade de perspectivas, com fragmentação de referenciais
e relativização de posições éticas, em que se destacam a violência e a predação
do outro, com o risco iminente de perversão dos laços sociais. Para esse autor,
e muitos outros psicanalistas, a subjetividade contemporânea carece de uma
crise da função paterna própria da modernidade. Na perspectiva psicanalítica, são
os ideais paternos que permitem a identificação com a moral cultural e social
por meio da chama lei simbólica. A crise das instituições e da subjetividade
moderna implica também uma crise desses ideais, de forma que a perda dessa
referência segura ameaça romper o próprio tecido do laço social com violência,
gerando então sintomas individuais e sociais amplamente disruptivos, em que a
angústia propriamente narcísica é expressa.
O nome que os psicanalistas dão para a violência
inominável que rompe nossas identidades e pensamentos, produzindo uma vivência
traumática é pulsão de morte. Os laços narcísicos contemporâneos expressam
mais claramente a dinâmica das pulsões de morte, onde a expressão do prazer se
confunde com a dor e o aniquilamento. Exemplos bem ilustrativos são as
inibições e vazios próprios dos sintomas depressivos, ou o gozo excessivo e
quase mortífero presente no diversos comportamentos adictivos. Segundo a
perspectiva psicanalítica, quando as amarras simbólicas se perdem e o psiquismo
é invadido por uma experiência que não pode ser elaborada, o regime de
pensamento literalmente “sai do ar” e o sujeito cai em condutas impulsivas e
impensadas que são sobretudo tentativas de “ligar “ por meio de algum sentido os afetos que transbordam na mente. Essa
repetição como forma de elaboração é típica dos chamados sonhos traumáticos, em que a pessoa revive involuntariamente um
trauma no sonho como forma de dar sentido à experiência, incorporando-a em seu “eu”.
Curiosamente,
esse tipo de dinâmica tem sido muito característica das representações
contemporâneas sobre a morte. O que alguns autores têm assinalado é que a morte
interdita não é mais a única representação social operante na atualidade.
Apesar de em algumas dimensões a elaboração do luto e a experiência de perda de
si mesmo ou do outro possam estar ainda mais excluídas e interditadas, pois há
um imperativo de felicidade exarcebada operando como ideal de nossas relações
sociais, o que se nota é também um exagerado fascínio em relação à violência e à
brutalidade, com acentuada exposição do sofrimento, de forma que se pode falar,
como sugere Maria Júlia Kóvacs, de uma verdadeira morte escancarada na atualidade. Assim, o que se observa hoje é que
as pessoas cada vez menos tem disponibilidade para falar e elaborar suas
frustrações e dores, mas também facilmente buscam em atos impulsivos reencenar
e banalizar este mesmo sofrimento. Esse é o apelo dos esportes radicais e
violentos, mas também do fascínio com a violência banalizada na imprensa e nos órgãos
de comunicação. É o chamado “mundo cão” ou, como eu prefiro, a hiper-realidade do real.
Pois bem, essa paradoxal morte escancarada é a
representação social própria de nosso contraditório mundo pós-moderno. Acredito
que o modelo mais convincente para interpretar tamanha ambivalência e
complexidade desses fenômenos está no aporte que a psicanálise, a partir de sua
discussão do narcisismo, da angústia de perda do objeto e do trauma da pulsão
de morte, pode trazer à discussão da questão da morte na contemporaneidade.
Em síntese, a representação da morte na atualidade
não é mais apenas a morte interdita que precisa ser rehumanizada e reincluída na
dinâmica simbólica social e individual. Ela se amplificou e se tornou
extremamente contraditória, expressando simultaneamente tendências de
isolamento com arroubos impulsivos e excessivos na direção de sua violenta
celebração. Sua concretude e imediatez permitem facilmente a massificação e a
banalização, caindo em pura barbárie. Isso faz com que a subjetividade
contemporânea esteja sempre no limiar do absurdo e da ruptura. Com isso, a
humanização do discurso sobre a morte ganha novos contornos e nuances, o que
torna ainda mais necessário a discussão, compreensão e simbolização das
questões da morte e do morrer, tanto no nível individual quanto no nível das
ligações simbólicas sociais que podem amparar nosso eterno e constitutivo
desamparo.
Bibliografia
ARIÉS, P. História da morte no ocidente: da idade média aos nossos dias. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2003 (Originalmente publicado em 1977)
BIRMAN, J. Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de
subjetivação. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
EIZIRIK, C. L.; BASSOLS, A. M. S. (orgs.) O Ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2013.
KÓVACS, M. J. Educação para a
morte. Psicologia Ciência e Profissão,
25(3): 484-497, 2005.
KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes
terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e a seus próprios
parentes. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VIORST, J. Perdas necessárias. 4. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2005.
** Érico Bruno Viana Campos é psicólogo, mestre e
doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
É professor assistente doutor do departamento de psicologia da UNESP Bauru.
Site pessoal: https://sites.google.com/site/ebcamposonline/.
Blog: http://interpretacoesdacultura.blogspot.com.br/
sábado, 22 de junho de 2013
Por que a Barbárie???
Por que a Guerra?
Troca de correspondências entre Freud e Einstein merece ser relida como reflexão para o atual momento da mobilização política brasileira: um arauto do pacifismo como a maior conquista da civilização moderna e única esperança contra a semente da barbárie que habita em todos nós.

Não sei se foi o espírito do tempo ou apenas a confluência de coincidências nesses últimos dias, mas me peguei relendo A Troca de Correspondência entre Freud e Einstein nos idos de 1932, em torno da iniciativa de criar uma Liga das Nações, embrião da futura Organização das Nações Unidas, que seria criada apenas depois da barbárie da Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de suplantar o mal-estar e a barbárie no futuro. A história humana desde então nos mostra o eterno retorno desse ideal de paz e sua retumbante falha. Acho que vale à penar ler ou reler esses pequenos textos para vermos como a essência das questões continua exatamente a mesma...
Em especial, serve para nos perguntarmos o porquê da Barbárie nesse momento do movimento de mobilização política brasileira: Por que tão facilmente as coisas descambam para a pura destruição e o vandalismo? Será que somos tão ingênuos a ponto de achar que ir às ruas é suficiente para a mudança? Não corremos o perigo de perder força fragmentados em tantas reivindicações diferentes?
Tenho discutido bastante essas questões nas redes sociais, que mostraram, mais uma vez, a força da mobilização na internet, mas vou me deter no que acho que é essencial:
Esse movimento todo é a expressão de uma insatisfação nacional pela irrealização do futuro democrático que temos tentado construir nesses últimos trinta anos. Trata-se de uma crise da instituição democrática como organizador do Estado brasileiro. O povo está podendo mostrar que amadureceu, enquanto as estruturas de poder e a classe política brasileira continuam no mesmo lugar. Trata-se da falência da esperança de que um ideal ou setor político pudesse cumprir a promessa de uma sociedade justa e democrática. Por isso a luta é fundamentalmente apartidária, pois o recado é para os políticos como um todo e um grito pedindo simplesmente que eles tenham vergonha na cara e honrem sua função de representantes eleitos do povo. É mais um grito pela ética na política brasileira e contra a perversidade típica do jeito brasileiro de fazer política. É um pedido que se obedeça e reconheça simplesmente a lei: a lei do Estado e a lei moral da subjetividade moderna.
Digo isso para afirmar que não é tempo de violência, mas sim de mostrar poder. No âmbito da democracia moderna o poder está do lado de quem se submete ao ideal e luta no plano das ideias e da justiça. Devemos olhar para os exemplos de desobediência civil da história recente e perceber que a grande força do povo está em estar do lado da verdade e da convicção simbólica. Não é hora de depredar e vandalizar, essa destrutividade simplesmente nos tira do lado da razão e da civilização. Precisamos usar a força da violência para construir um ideal simbólico que nos comune e nos oriente.
Minha sugestão é que se faça um Manifesto do Povo Brasileiro, exigindo uma clara manifestação simbólica de mudança do paradigma da política brasileira. Algo que conclame a greve geral e a desobediência até que se vote por leis que garantam a civilidade e a decência política. Devemos pedir que a PEC-37 seja revogada, que a Ficha Limpa seja Aprovada e, sobretudo, exigir que os políticos brasileiros tenham a decência de renunciarem aos cargos públicos ante a qualquer denúncia ou suspeita legítima de improbidade e corrupção. Devemos nos unir em torno de bandeiras que indiquem, no simbólico, um basta; que possam traçar uma linha divisória que mostre para os políticos que o brasileiro não tolerará mais esse tipo de conduta e que passou a ter memória. Temos de entender que esse movimento é uma afirmação para nós mesmos e que somos nós quem devemos aprender que, no fundo, tudo isso que está aí e responsabilidade nossa, porque elegemos esses representantes!
Temos de mostrar que não toleraremos mais e que as regras do jogo mudaram, de verdade.
Enfim, foi mais um desabafo.
Sugiro que leiam o texto e atentem para o que Freud fala de que a força da civilização vem da utilização de nossa destrutividade intrínseca para construir ideais, instituições e leis que fomentem uma vida mais justa, mais humana e mais civilizada. Parece besteira, mas não é. Trata-se de entender que a sociedade moderna é fruto de um trabalho constante de esperança na ordem simbólica como organização e mediação dos conflitos humanos.
Fica a dica. Segue o link de um PDF do texto que disponibilizo no meu site e que foram originalmente
publicados nas Obras Completas de Freud:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36748943/Freud%20e%20Einstein%20-%20Por%20que%20a%20guerra.pdf
Troca de correspondências entre Freud e Einstein merece ser relida como reflexão para o atual momento da mobilização política brasileira: um arauto do pacifismo como a maior conquista da civilização moderna e única esperança contra a semente da barbárie que habita em todos nós.

Não sei se foi o espírito do tempo ou apenas a confluência de coincidências nesses últimos dias, mas me peguei relendo A Troca de Correspondência entre Freud e Einstein nos idos de 1932, em torno da iniciativa de criar uma Liga das Nações, embrião da futura Organização das Nações Unidas, que seria criada apenas depois da barbárie da Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de suplantar o mal-estar e a barbárie no futuro. A história humana desde então nos mostra o eterno retorno desse ideal de paz e sua retumbante falha. Acho que vale à penar ler ou reler esses pequenos textos para vermos como a essência das questões continua exatamente a mesma...
Em especial, serve para nos perguntarmos o porquê da Barbárie nesse momento do movimento de mobilização política brasileira: Por que tão facilmente as coisas descambam para a pura destruição e o vandalismo? Será que somos tão ingênuos a ponto de achar que ir às ruas é suficiente para a mudança? Não corremos o perigo de perder força fragmentados em tantas reivindicações diferentes?
Tenho discutido bastante essas questões nas redes sociais, que mostraram, mais uma vez, a força da mobilização na internet, mas vou me deter no que acho que é essencial:
Esse movimento todo é a expressão de uma insatisfação nacional pela irrealização do futuro democrático que temos tentado construir nesses últimos trinta anos. Trata-se de uma crise da instituição democrática como organizador do Estado brasileiro. O povo está podendo mostrar que amadureceu, enquanto as estruturas de poder e a classe política brasileira continuam no mesmo lugar. Trata-se da falência da esperança de que um ideal ou setor político pudesse cumprir a promessa de uma sociedade justa e democrática. Por isso a luta é fundamentalmente apartidária, pois o recado é para os políticos como um todo e um grito pedindo simplesmente que eles tenham vergonha na cara e honrem sua função de representantes eleitos do povo. É mais um grito pela ética na política brasileira e contra a perversidade típica do jeito brasileiro de fazer política. É um pedido que se obedeça e reconheça simplesmente a lei: a lei do Estado e a lei moral da subjetividade moderna.
Digo isso para afirmar que não é tempo de violência, mas sim de mostrar poder. No âmbito da democracia moderna o poder está do lado de quem se submete ao ideal e luta no plano das ideias e da justiça. Devemos olhar para os exemplos de desobediência civil da história recente e perceber que a grande força do povo está em estar do lado da verdade e da convicção simbólica. Não é hora de depredar e vandalizar, essa destrutividade simplesmente nos tira do lado da razão e da civilização. Precisamos usar a força da violência para construir um ideal simbólico que nos comune e nos oriente.
Minha sugestão é que se faça um Manifesto do Povo Brasileiro, exigindo uma clara manifestação simbólica de mudança do paradigma da política brasileira. Algo que conclame a greve geral e a desobediência até que se vote por leis que garantam a civilidade e a decência política. Devemos pedir que a PEC-37 seja revogada, que a Ficha Limpa seja Aprovada e, sobretudo, exigir que os políticos brasileiros tenham a decência de renunciarem aos cargos públicos ante a qualquer denúncia ou suspeita legítima de improbidade e corrupção. Devemos nos unir em torno de bandeiras que indiquem, no simbólico, um basta; que possam traçar uma linha divisória que mostre para os políticos que o brasileiro não tolerará mais esse tipo de conduta e que passou a ter memória. Temos de entender que esse movimento é uma afirmação para nós mesmos e que somos nós quem devemos aprender que, no fundo, tudo isso que está aí e responsabilidade nossa, porque elegemos esses representantes!
Temos de mostrar que não toleraremos mais e que as regras do jogo mudaram, de verdade.
Enfim, foi mais um desabafo.
Sugiro que leiam o texto e atentem para o que Freud fala de que a força da civilização vem da utilização de nossa destrutividade intrínseca para construir ideais, instituições e leis que fomentem uma vida mais justa, mais humana e mais civilizada. Parece besteira, mas não é. Trata-se de entender que a sociedade moderna é fruto de um trabalho constante de esperança na ordem simbólica como organização e mediação dos conflitos humanos.
Fica a dica. Segue o link de um PDF do texto que disponibilizo no meu site e que foram originalmente
publicados nas Obras Completas de Freud:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36748943/Freud%20e%20Einstein%20-%20Por%20que%20a%20guerra.pdf
quinta-feira, 30 de maio de 2013
Coleção Entendendo...
Novas opções de Freud e Psicanálise em Quadrinhos
Coleção de Quadrinhos da Editora Leya traz títulos da área de Psicanálise e afins com didatismo e bom gosto.


O projeto editorial é muito bem cuidado, com um visual bastante interessante e contemporâneo. Os dois números específicos sobre a psicanálise são muito informativos e bem dosados no conteúdo. São livros de em média 150-200 páginas, que estão com um preço honesto de R$29,90. São sempre fruto da parceria de um acadêmico, responsável pelo conteúdo, e um artista gráfico, responsável pelas ilustrações. É uma coleção originalmente britânica, e os colaboradores tendem a trabalhar na Inglaterra.
Coleção de Quadrinhos da Editora Leya traz títulos da área de Psicanálise e afins com didatismo e bom gosto.
Em 2012 a Editora Leya - holding de editoras de língua portuguesa que aportou há pouco tempo no Brasil - lançou uma coleção de Quadrinhos (HQ) chamada Entendendo..., cuja proposta é ser um guia ilustrado de introdução a uma área de pensamento ou à obra de um autor. Os primeiros números da coleção foram bem servidos em relação à área da psicanálise e atualmente temos três títulos que podem ser bem interessantes para o público "psi": Freud, Psicanálise e Jung.


Nos dois volumes dedicados à psicanálise, as ilustrações ficaram por conta de Oscar Zarate, que é um ilustrador argentino com um estilo bem marcante e diversificado. Os livrinhos trazem ilustrações bastante heterogêneas, mesclando inclusive desenho e fotografia, mostrando uma colagem de estilos que tem um resultado visual final bem agradável e bem-humorado. O conteúdo abordado é bem abrangente e também bem dosado para o público leigo. Esse é, inclusive, o grande mérito desses dois livros, pois eles servem muito bem a uma introdução ao campo da psicanálise. As informações históricas, a apresentação dos conceitos e a abrangência temporal e temática são boas. A narrativa flui bem e cativa o leitor, ilustrando muito bem os conceitos principais e fundamentais. Há um pequeno glossário de termos, indicações de leitura e um índice de temas, o que torna a obra bastante didática.
Só que isso também é um revés, já que o didatismo muitas vezes se superpõe à linguagem do quadrinho. Há momentos em que há textos interpostos, trazendo definições conceituais mais consistentes, o que ajuda na compreensão dos mesmos. Mas isso quebra o desenvolvimento da narrativa e a própria estética gráfica, o que é uma pena do ponto de vista estético. Penso que é aí que a proposta da coleção seja um pouco equivocada. Há algumas obras de quadrinho que tratam da psicanálise, como tive a oportunidade de trazer algumas vezes neste blog. Mas o propósito raramente é didático ou de apresentação dos conceitos. No máximo se trata da história da doutrina ou das personagens. O mais interessante nesses casos, pensou eu, é a linguagem propriamente estética e narrativa. Nesse sentido, os livrinhos dessa coleção deixam esse propósito de lado para tentar ser bem didáticos e explicativos.
Ora, para isso é que se tem propriamente os livros didáticos, não? Como professor, penso que uma coisa não deva substituir a outra, mas parece que esse tipo de proposta tenta fazer justamente isso. Assim, parece que o apelo é para ler o guia ilustrado, que seria mais interessante do que um livro acadêmico. Algo do como aquela coleção "para dummies", que tem também no grafismo um apelo didático. Eu não vou recomendar esses livros para quem quer conhecer psicanálise. Ainda prefiro os bons e velhos textos e se for o caso, os documentários e filmes. Mas para quem já conhece, pode ser uma leitura leve e lúdica. Recomendo, portanto, para os estudantes e profissionais 'psi' que se interessam e estudam o tema e que querem dar uma relaxada e descontraída.
Fica então a dica. Outros números estão saindo, sobre filosofia e psicologia, com autores legais como Foucault e Zizek, por exemplo, mas tem também mais números previstos de psicanálise, como o de Melanie Klein. Vale à pena conferir e acompanhar.
domingo, 21 de abril de 2013
Meu Currículo Ideal de Formação de Psicólogo
Como vocês devem saber, já tive aulas e dei aulas em muitos lugares, em faculdades públicas e privadas. Nesses lugares sempre participei ativamente das discussões sobre a formação profissional e sobre a reestruturação curricular, incluindo a avaliação dos cursos em função das diretrizes pedagógicas. Ultimamente tenho estado envolvido com as discussões sobre a modificação e adequação do projeto pedagógico atual dos cursos de Psicologia da UNESP de Bauru. Depois de muitas considerações, discussões e avaliações, cheguei ao que seria o meu currículo ideal de formação em psicologia, que agora publico aqui, para fomentar discussões sobre esse tema tão importante e complexo.
Nessa proposta, penso em um curso estruturado em cinco anos, com carga horária semana de 30 horas, sendo 20 delas de atividades em sala de aula, ou seja, 6 horas por dia, sendo 4 efetivas em sala de aula, durante cinco dias da semana. Configuraria assim um curso com aulas de segunda à sexta, no turno matutino-vespertino (8h-12h e 14h-16h) ou no turno vespertino-noturno (16h30-17h30 e 19h-23h). Acredito que é uma solução bastante viável, pois acomoda uma boa carga horária de aulas e atividades, sem comprometer o sábado e ainda viável para quem trabalha à noite, pois as aulas se concentrariam apenas no turno da noite, sendo a tarde reservada para atividades complementares e algumas práticas fora do horário de aula. Toda a carga horária do curso ficaria locada nesses horários, de forma que não haveria atividades para serem realizadas fora desse horário (as famosas "horas fantasmas").
Seria um curso com carga horária total de 4200 horas, com 3360h de disciplinas teóricas e atividades complementares extra-classe e 840h de estágios práticos e atividades complementares extra-curriculares.
Esse currículo seria estruturado em torno de duas linhas gerais de formação: as mediações teóricas, que sustentam a abordagem dos fenômenos psicológicos, e as ênfases, que dizem respeito à áreas de atuação, entendidas, nesse caso, mais em função das lógicas simbólicas e institucionais que organizam âmbitos de práticas e atuação do que propriamente lugares ou características tradicionais de atividade profissional. Do mesmo modo, as mediações teóricas não se dividiriam segundo escolas de pensamento específicas, mas seriam organizadas em grupos de teorias e métodos que ser articulam a um fundamento histórico e epistemológico comum. Considerando o campo atual de teorias e práticas em psicologia, considero que seriam representativas do espaço psicológico contemporâneo as seguintes linhas:
Mediações Teóricas
Biológica e Comportamental
Psicanalítica e Psicodinâmica
Humanista e Sistêmica
Sócio-Histórica
Ênfases
Clínica e Saúde
Educação e Aprendizagem
Trabalho e Organizações
Sociedade e Comunidade
Essas linhas organizariam a grade curricular em 10 semestres, com uma estimativa de 40 vagas. Nela, as disciplinas seriam de três tipos:
Teórica:
Com atividades restritas à sala de aula e sem divisão de turmas, com um único professor para todos os alunos. As disciplinas teóricas podem ser de natureza obrigatória ou optativa. Nessa proposta, há a exigência do aluno cursar 4 disciplinas optativas, sendo duas de mediação e duas de ênfase.
Teórico-Prática:
Com atividades teóricas em sala de aula mas também com atividades extra-classe que podem incluir atividades somente de estudo ou mesmo práticas, desde que não configurem experiências em campos de atuação profissional. Nessas disciplinas há uma carga horária em classe e também carga horária complementar. A disciplina pode ser dividida por turmas, com mais de um professor, mas também pode permanecer uma classe única, a depender da natureza do conteúdo e das competências desenvolvidas na disciplina.
Prática:
Disciplinas em que as práticas configuram propriamente estágios de atuação. Nelas há horas previstas na grade de aulas, para supervisões e mesmo aulas teóricas (quando for o caso), mas também há carga horária para ser desenvolvida no campo de estágio, a qual deverá ser alocada em horas compatíveis ao turno do curso. Nas disciplinas práticas haverá, necessariamente, divisão de turmas entre diferentes supervisores.
As práticas de estágio seriam organizadas segundo a proposta das diretrizes curriculares, em que os Estágios Básicos se destinariam ao desenvolvimento de competências e habilidades do núcleo comum de formação, enquanto os Estágios Específicos se destinariam ao desenvolvimento de competências e habilidades do núcleo de formação profissional.
Os Estágios Básicos seriam de natureza semestral, organizados em três atividades: Pesquisa, Extensão e Diagnóstico. Os alunos devem ter duas experiências de estágio em pesquisa, duas em extensão e uma em diagnóstico. Esses estágios seriam oferecidos em um momento específico da grade, a saber: os de pesquisa no terceiro ano (5º e 6º semestres), os de extensão no quarto ano (7º e 8º semestre) e o de diagnóstico no segundo semestre do quarto ano (8º Semestre). As turmas seriam sempre dividadas por quatro professores responsáveis pelas atividades de orientação e alocação dos alunos nos campos de práticas. Nessa divisão, a equipe de professores responsável pela disciplina seria formada por um representante de cada linha organizadora do projeto pedagógico, da seguinte forma:
Estágios de Pesquisa - Divididos por Mediação Teórica
Estágios de Extensão - Divididos por Ênfase
Estágio de Diagnóstico - Dividido por Ênfase
Os Estágios Específicos seriam de natureza anual (9º e 10º semestre), organizados por ênfases. Os alunos devem optar por cursarem dois estágios em duas ênfases das quatro oferecidas no curso.
Segue o link para a grade horária proposta, que tenta fazer uma distribuição de disciplinas que seja equilibrada em função de mediações e ênfases.
Link para PDF do Curriculo Ideal
sexta-feira, 29 de março de 2013
Dicas para Escrever sobre a Clínica Psicanalítica
As questões que sempre se impõem a quem quer escrever sobre a Psicanálise na Universidade
Nesta semana, o Prof. Christian Dunker compartilhou um texto seu sobre a tarefa de produzir uma pesquisa em psicanálise no contexto da clássica discussão sobre psicanálise e universidade. É um texto muito sábio, refletindo a experiência de quem está há anos nesse percurso e se põe a refletir com inteligência e clareza sua prática. Tem o mérito de focar diretamente nas questões práticas e com isso analisar as transferências que se produzem nas relações interpessoais e intrapessoais de quem se propõe a fazer um trabalho de pesquisa acadêmico na área. Além disso é um artigo muito bem humorado e suscinto, na forma de 27+1 erros comuns de quem escreve uma tese em psicanálise. Foi publicado em um número especial de 2010 sobre pesquisa em psicanálise de um periódico da Associação Psicanalítica de Curitiba, mas mais do que um artigo é uma ótima crônica sobre o meio acadêmico. Por conta disso caberia facilmente em uma revista de divulgação científica ou mesmo em um veículo jornalístico mais geral. Achei fantástico e decidi compartilhar com vocês, leitores deste blog. Segue o link:
http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/psc/2010_-_27__1_Erros_mais_comuns_de_quem_quer_escrever_uma_tese_em_psicanlise.pdf
O número todo é muito interessante, mas infelizmente os textos não estão disponíveis online. Para quem quiser dar uma olhada nos autores, segue o link da Associação:
http://www.apccuritiba.com.br/revistas/revista-no-20-psicanalise/
http://books.google.com.br/books/about/Escrever_a_Clinica.html?id=1JVwbct4Ft0C&redir_esc=y
Bem, acho que é isso. Ficam a indicações. Boa leitura!
terça-feira, 19 de março de 2013
Pink Freud
Essa é para descontrair...
Esse blog nasceu trazendo imagens inusitadas da apropriação de Freud pela cultura Pop. Seguem alguns dos layouts que foram feitos no ano passado para a tradicional festa dos estudantes de psicologia da UNESP Bauru, que se chama Pink Freud!
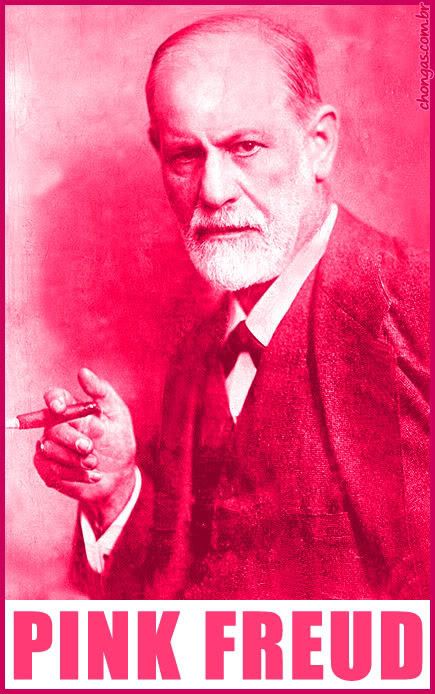


Esse blog nasceu trazendo imagens inusitadas da apropriação de Freud pela cultura Pop. Seguem alguns dos layouts que foram feitos no ano passado para a tradicional festa dos estudantes de psicologia da UNESP Bauru, que se chama Pink Freud!
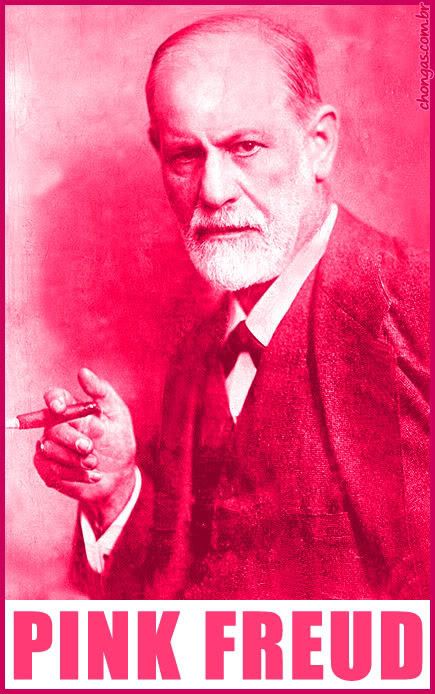


sábado, 16 de março de 2013
O Segredo da Auto-Ajuda (Matéria Revista Mythos n. 4)
O Campo da Psicologia e o Segredo da Auto-Ajuda
A literatura de auto-ajuda é uma tendência
crescente na cultura contemporânea que muitas vezes se confunde com as
publicações de divulgação científica do campo das psicologias. Embora a comunidade acadêmica e profissional
tenha razão em criticar a banalização que esse segmento proporciona, o apelo de
tal discurso pode ser explicado pela própria configuração do espaço psicológico
que emerge na modernidade
Érico Bruno
Viana Campos*
Os leitores das revistas semanais de grande circulação e observadores de
estantes em livrarias aprenderam a reconhecer um segmento editorial que cada
vez mais ganha destaque, a chamada “literatura de auto-ajuda”. Nos últimos
anos, vários títulos desse rótulo se tornaram best-sellers, como O Segredo,
Quem Somos nós? e A Cabana,
gerando inclusive versões cinematográficas de relativo sucesso, a tal ponto que
podemos hoje reconhecer uma certa cultura em torno desse termo. Mas o que é a
auto-ajuda, afinal? O que justifica seu encanto no âmbito da sociedade de
consumo contemporânea? Minha hipótese é que a auto-ajuda seja um sintoma da
própria configuração do espaço psicológico que emerge na modernidade ocidental,
constituindo uma espécie de reverso do saber psicológico que toca na própria
alma da condição humana universal.
Caracterização do fenômeno da auto-ajuda
O termo auto-ajuda, se refere a qualquer iniciativa auto-gerida de
indivíduos e/ou grupos de buscar aprimoramento profissional, econômico, físico,
intelectual, emocional ou espiritual. É aplicado de forma bastante
indiscriminada no campo da saúde, da educação e dos negócios, tendo como
principal reflexo um mercado editorial específico, conhecido como literatura de auto-ajuda.
Embora seja um segmento muito diversificado, que vai de recursos de
aprendizagem profissional até a orientação espiritual, a auto-ajuda apresenta
algumas características gerais comuns. Dentre elas está a apresentação de fórmulas
supostamente simples e esquemáticas que proporcionam mudança radical na vida
profissional e pessoal (“Siga os três passos do sucesso!”). Outra
característica recorrente é a presença de afirmações imperativas voltadas para
a atuação concreta do leitor em seu meio com ênfase no pensamento positivo como
fomento à realização e ao sucesso (“Querer é poder!”). Também é geral nestes
livros a alegação de um embasamento desses princípios em um conjunto de
técnicas com suposto respaldo científico e institucional (“Comprovado por
cientistas de Harvard!”). Igualmente recorrente é a caracterização da atividade
do leitor como uma habilidade emocional expressiva e singular (“Siga sua
intuição para encontrar seu lugar no mundo!”) e a presença massiva de recursos
didáticos, ilustrativos e retóricos, dando um tom de casualidade, proximidade e
facilidade para o leitor (“É extremamente fácil. Veja!”).
Essas características dão um tom de apoio e suporte para o leitor, que se
vê amparado de um conjunto de técnicas e estratégias que podem garantir seu
sucesso pessoal e profissional. Portanto, não são livros que fomentam a
reflexão ou o questionamento de si mesmo ou da realidade, mas indicativos de
ação efetiva e imediata sobre o meio circundante da pessoa. Uma característica
interessante é que quase sempre as questões pessoais, emocionais e espirituais estão
articuladas ao sucesso profissional e à possibilidade de visibilidade social e
de consumo. Isso mostra o quanto esse fenômeno está adaptado ao contexto da
sociedade de consumo e às seduções que o modelo econômico vigente imprime à
subjetividade contemporânea. Não é à toa que o grande nicho dessa cultura seja
o meio empresarial e corporativo, por meio dos palestrantes que vendem suas
fórmulas de sucesso aos crédulos consumidores de suporte emocional. Sem dúvida,
é no registro do “mercado” que o fenômeno da auto-ajuda se instaura e floresce.
Breve história do gênero
Curiosamente, o primeiro livro do gênero, entitulado “Auto-Ajuda” (Self Help) foi escrito pelo ativista e
reformador britânico Samuel Smiles (1812-1904) em 1859. Naquele tempo, o auge
da Era do Capital, segundo Eric
Hobsbawn, o capitalismo industrial e financeiro se consolidava no ocidente,
sufocando as revoluções liberais que alçaram a classe burguesa ao poder. O
individualismo liberal e o Estado disciplinar se consolidavam como
organizadores da vida social, desorganizando a vida comunitária e a consciência
de classe, deixando os trabalhadores sem outra alternativa de amparo social que
não ajudarem a si mesmos solitariamente. Essa é a tônica e o intento do livro
de Smiles, uma espécie de manual de
individualismo para uma era de desilusão coletiva. Portanto, podemos dizer que
a literatura de auto-ajuda nasce sob o signo da crise da subjetividade. No
entanto, o gênero só fará sucesso e se tornará um fenômeno a partir da segunda
metade do século XX, no contexto do pós-guerra e da última faceta do
capitalismo: a economia pós-industrial e a sociedade de consumo. Nesse sentido,
o grande best-seller pioneiro do
gênero é “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, de 1937, do empresário americano
Dale Carnegie (1888-1955). Este livro já pode propriamente ser caracterizado
como um manual de auto-ajuda, com todo o apelo mercadológico que a cultura
americana do self made man e do business man pôde imprimir ao gênero. O
fenômeno se instaura nos anos dourados de 1950 e 1960, mas é só com a crise
econômica e a instabilidade política do final dos anos 1970 que o seu apelo
cresce. Foi então em meados dos anos 1980 que o New York Times criou uma
categoria específica de auto-ajuda em suas listas de mais vendidos, selando o
movimento como um gênero literário. Desde então, fomos nos acostumando a
reconhecer três gêneros literários nas listas de vendas de livros: ficção,
não-ficção e auto-ajuda.
Também foi a partir dos anos 1980 que a literatura de auto-ajuda se
instalou no Brasil. De início, ela foi marcada por um certo apelo místico e
alternativo típico dos movimentos hippie
e de contracultura dos anos 1960-1970, com uma marca de espiritualidade típica
de nossas tendências ao sincretismo religioso. A partir dos anos 1990, contudo,
ela passou a se caracterizar mais claramente no ramo dos negócios e do
marketing. O grande marco desse momento foi o Dr. Lair Ribeiro, com seus treinamentos
motivacionais baseados nas técnicas de programação neurolinguística, que são
oferecidos até hoje com o sugestivo título de Poder Mental Transformacional (PMT): “inteligência aplicada à
evolução”. A partir de então já se via a articulação clara entre técnicas de
motivação e marketing na gestão da vida pessoal e profissional que tanto
caracteriza o gênero. Essa tônica prevalece até hoje, de forma que é no mercado
da chamada “cultura organizacional” que o gênero floresce e se sustenta
prioritariamente, por meio de ciclos de palestras e treinamentos empresariais
que geram as publicações que chegam ao público em geral. Por outro lado, convém
ressaltar que devido às características sincréticas da cultura brasileira, esse
gênero acaba se articulando com o de espiritualidade, misticismo e esoterismo.
Em particular, temos no Brasil um filão paralelo da literatura de auto-ajuda
que se desenvolve prioritariamente a partir dos praticantes e simpatizantes da
religião espírita, cujos grandes expoentes são os livros psicografados por
médiuns como o pioneiro Chico Xavier e a mais recente Zíbia Gasparetto. Nessa
vertente, o marketing e a promoção do
sucesso são menos presentes, dando lugar ao fomento do crescimento emocional e
espiritual, mas as linhas gerais do discurso da auto-ajuda permanecem. Além
disso, o grau de sobreposição e mesmo confusão entre os níveis psicológico,
espiritual e empresarial, ou entre perspectivas téorico-metodológicas e mesmo
posições éticas e políticas é tamanho que fica muito difícil caracterizar ou
discriminar exatamente as diferentes vertentes do fenômeno.
De qualquer forma, o fato é que por maior que seja o sucesso que essas
publicações alcançam, a literatura de auto-ajuda é considerada como um certo
“Lado B”, de caráter mercadológico, banalizado e massificado, das teorias e
práticas psicológicas consideradas científicas e acadêmicas, gerando atrito no
campo da reserva dos mercados entre os profissionais “psi” e os autores desse
tipo de literatura com suas práticas. É notável nas prateleiras das livrarias
como o segmento de psicologia se tornou um apêndice do genérico “auto-ajuda/espiritualidade”.
Nota-se, portanto, como a questão não se resume à determinação do que é mais
prestigiado, ou entre o que é de “elites” e o que é para as “massas”, mas à
própria delimitação das identidades profissionais e suas práticas legítimas.
Nesse sentido, a auto-ajuda acaba se configurando como uma problemática de
mercado no campo da distinção entre práticas “psi” e práticas dita
“alternativas”. O exemplo mais recente desse embate é a nova modalidade de
orientação de carreira/vida pessoal chamada de coaching, que muitos psicólogos consideram uma modalidade
disfarçada de psicoterapia que foi desenvolvida especialmente para a prática
profissional de administradores e executivos. Isso sem falar que, por ser algo
que se desenvolve no mundo empresarial, que supostamente garante o sucesso e
que está na moda, o coaching goza de
grande prestígio e status, de forma
que precisa ser mais caro do que os tratamentos e práticas comuns.
Por conta disso é que a auto-ajuda é tomada com bastante desdém pelos
profissionais de psicologia que se consideram “sérios”. É por isso também que
pouco se fala desse fenômeno no campo propriamente psicológico. Ele é um
verdadeiro “resto”, um quase “lixo” das teorias e práticas psicológicas. No
entanto, a coisa não se configura com limites tão precisos como as posições
ideológicas costumam pintar. Há muitos psicólogos “sérios” que se rendem à
mesma lógica da auto-ajuda, sem falar que muitos livros de auto-ajuda acabam
sendo utilizados e divulgados por psicólogos em suas práticas. Isso sem falar
na imensa diversidade de práticas, perspectivas e modelos que se configuram e
articulam de forma incontrolável nesse amplo campo em que incidem as lógicas do
trabalho, da educação e da saúde. O que nós temos não é uma situação bipolar
entre “ciência e verdade” versus “mercado e propaganda”, como muitos nos levam
a crer. Na verdade, o crescimento dessa diversidade espelha muito bem as
tendências pós-modernas de fragmentação, relativização e “bricolagem” de
discursos e práticas sociais.
Em outras palavras, podemos dizer que a auto-ajuda não é um erro ou
acidente de percurso, mas uma expressão legítima da subjetividade na
atualidade. Da psicanálise aprendemos que tudo o que é sintomático é índice de
uma verdade que a consciência desconhece, mas que, no fundo a organiza.
Portanto, minha hipótese é que essa situação de escalada da auto-ajuda não é
circunstancial; pelo contrário, constitui um verdadeiro sintoma da configuração
do campo psicológico tal como se deu na modernidade.
O espaço psicológico: território da
ignorância
A história do campo nos mostra que o projeto da psicologia científica é
fruto de uma determinada configuração sócio-histórica e político-econômica dos
desdobramentos da modernidade ocidental, naquilo que Luis Cláudio Figueiredo
(inspirado em Foucault) chamou de emergência e queda do sujeito/indivíduo
moderno na produção dos saberes sobre a subjetividade. Essa configuração foi
responsável pela criação de um espaço de saber "psicológico", marcado
pela contradição e ambiguidade nas perspectivas éticas e epistemológicas a
respeito do homem e de sua subjetividade. A ideia, como expliquei melhor em
artigo anterior publicado nesta mesma revista (Cf. a matéria “A diversidade que
nos une”) é que somente com a crise da concepção de sujeito e indivíduo moderno
pôde surgir o projeto de uma psicologia científica. Esse espaço de dispersão
foi a matriz geradora de todos os projetos das chamadas "psicologias"
modernas e é marcado pela tensão entre três pólos de posicionamento ético com
relação ao ser humano: o romântico, o iluminista e o disciplinar. O pólo
iluminista concebe o homem como uma produção da razão e da vontade, dentro de
uma perspectiva liberalista e individualista de sociedade. O pólo romântico
concebe o homem como um potência expressiva e criativa que reencontra a unidade
e a identidade das tradições (Natureza, Nação, Povo, Verdade, Deus...) por meio
de uma comunhão afetiva. O pólo disciplinar, por sua vez, concebe o homem como
objeto de um mecanismo de controle tecnocrático e burocrático no sentido da
manutenção de uma pretensa ordem social racional e pública. Segundo essa
perspectiva de Figueiredo, expressa em alguns de seus livros ("Matrizes do
pensamento psicológico" e "A invenção do psicológico: quatro séculos
de subjetivação"), as diversas concepções epistemológicas e as diversas
teorias psicológicas desenvolvem-se a partir de alianças e oposições a estas
perspectivas éticas.
Isso quer dizer que as diversas psicologias nascem com a missão de lidar
com o “resto” e com o “lixo” produzido pelas ordens institucionais modernas que
se configuram no âmbito da família, da saúde, da educação e do trabalho. Cabe
aos “psi” desenvolverem uma prática de controle e ação sustentada em um saber
científico sobre as crianças mal-criadas e mal-educadas, os empregados
mal-treinados e mal-selecionados, os doentes mentais mal-adaptados e assim por
diante. Na sua tarefa de “reciclagem” e “tratamento” desse resíduo, os “psi” se
apoiam em suas matrizes epistemológicas e posicionamentos éticos, que são
múltiplos, diversos e contraditórios, criando assim um espaço de dispersão sem
qualquer perspectiva de unificação.
Falei bastante disso no meu artigo anterior, a quem remeto o leitor
interessado. O que eu trago de novo agora é chamar a atenção para o fato de que
Luis Cláudio Figueiredo chama o espaço psicológico de território da ignorância. Isso porque o grau zero do espaço
psicológico, ou seja, o ponto central de intersecção das bissetrizes dos seus
vértices é nulo. Em outras palavras, o lugar de equidistância entre os
discursos psicológicos, aquele em que todas as tensões incidem é, na verdade,
um vazio. Isso quer dizer que a tentativa de produzir um discurso homogêneo
sobre a subjetividade humana redunda em uma caracterização tão geral e
inespecífica que se torna inócua e banal. É como se na tentativa de dar conta
de todas as diferenças, acabássemos por ficar apenas com aquilo que é mais
universal. Da mesma forma, entende-se que a riqueza dos saberes psicológicos
está justamente na manutenção dessa tensão e dessa diversidade de perspectivas
e posições, o que faz de qualquer empreitada psicológica, necessariamente, uma indisciplina crítica. Todas as grandes
teorias psicológicas são importantes porque vão a fundo na exploração das
possibilidades e limites de certa concepção do que seja o psiquismo humano. Sua
força está justamente nessa especificidade e é o debate entre essas
perspectivas antagônicas que mantém o espaço psicológico vivo e dinâmico.
Uma boa metáfora para caracterizar o espaço psicológico é a de um sistema
atmosférico na forma de ciclone. Como se sabe, os grandes sistemas de
tempestade têm essa forma característica de um redemoinho, daí a sua
precipitação na forma de furacões e tornados. A força centrífuga do redemoinho
gera ondas de choque intensas, que devastam tudo a sua volta. No entanto, o
centro do sistema é estável e plácido, formando o chamado “olho” do furacão.
Assim, no olho do furacão não há conflito de forças antagônicas, apenas a
calmaria e a inércia do centro a qual todo o resto está referido. É uma imagem
poderosa e que se apresenta na própria configuração da matéria no nosso
universo, já que toda galáxia se organiza em configurações cíclicas por conta
da força de um grande buraco negro que a mantém unida. No centro do caos, há o
nirvana. Toda luz circula um poço de escuridão, assim como todo saber
circunscreve uma ignorância fundamental sobre o humano.
A questão é que quanto mais os saberes psicológicos tentam dar conta de
todos os pólos do espaço psicológico, mais eles adotam posturas ecléticas ou
sintéticas que tendem a empobrecer a riqueza do "psicológico". Esse
discurso de pretensa conciliação e eliminação das diferenças é encontrado nos
mais diversos níveis da produção de discursos sobre o espaço psicológico, desde
o senso comum da psicologia até a mais descarada literatura
"marqueteira" de auto-ajuda. Não é à toa que o ponto de
conjunção dos três pólos do psicológico - o centro geométrico deste espaço
- é o lugar da total ignorância e imobilidade. Seria como o olho de um furacão
- lugar de total inércia - ou o horizonte de eventos de um buraco
negro - local de plena invisibilidade. Isso quer dizer o seguinte: qualquer
perspectiva totalizadora na psicologia tende a se tornar completamente
inerte e, ainda por cima, converter-se em pura ideologia.
Pois bem, o que tudo isso nos diz sobre o fenômeno da auto-ajuda? Como
vimos, esse tipo de literatura se mantém pela reprodução desses chavões; do
enunciado de pretensas verdades absolutas por meio de expedientes simples; de
fórmulas mágicas que tudo resolvem imediatamente. Sem falar na falta de
critérios e de sustentação, na mistura desatinada de apelos afetivos, índoles
místicas, raciocínios pragmáticos e pretensas "técnicas" na
explicação do sofrimento humano e em sua cura. O que eu gostaria de contribuir
para essa discussão é na interpretação da estrutura
desse discurso, que é, justamente, o que faz com que a auto-ajuda, como um simulacro,
ocupe o centro do espaço psicológico, convertendo-se em ideologia que encobre
sua própria ignorância.
A fórmula da auto-ajuda
O segredo é: existe uma verdade! Ela pode ser encontrada por qualquer um
de nós, basta ter a atitude certa; basta querer e fazer a escolha certa. Essa
verdade é garantida pela ciência e por todas as autoridades de legitimação de
saber da cultura; é um caminho certo e garantido, basta dar o primeiro passo.
Esse caminho depende de uma atitude afetiva, emocional e expressiva, pois não é
um conhecimento racional, mas intuitivo, do mundo; é preciso, então, estar em
sintonia com essa atitude do universo. Embora seja da ordem da intuitividade e
da espontaneidade, existe uma "técnica" que pode ser ensinada, que é
legitimada pela "ciência" e pelo "saber". Em suma:
"Querer é poder. Basta tomar a atitude certa de sintonia com a verdade. A
ciência garante!"
Ora, não é isso o mais perfeito exemplo da aliança entre os pólos liberal,
romântico e disciplinar que configuram o espaço psicológico? Do pólo liberal
temos a manutenção da ilusão de uma soberania do sujeito que é dono de sua
razão, de sua vontade e de sua vida e, portanto, de seu destino. Esse é o maior
apelo da auto-ajuda, inclusive: a ilusão narcísica que mesmo na maior crise de
identidade eu possa sozinho resolver os problemas e me bastar. É a ilusão de
que ainda sou sujeito ativo da minha vida. Mas essa vontade individual de nada
adianta senão for respaldada por uma racionalidade instrumental impessoal e
disciplinadora como o discurso da competência científica. Por isso, por mais
que dependa da vontade do indivíduo, há a necessidade de um saber que garanta a
verdade e ao qual se deve submeter em troca de amparo. Esse é o segundo vértice, propriamente
disciplinar, de submissão a um regime totalitário de controles impessoais e
massificantes. Seu apelo também é forte, pois dá sentido de coletividade e de
identidade em troca de uma servidão voluntária. Mas há ainda outro vértice, que
é o da expressividade emocional propriamente romântica. Essa verdade não é uma
da ordem de uma racionalidade universal, mas algo da ordem de uma potência
criativa e singular. Há algo propriamente místico no sentido de uma comunhão
com a totalidade que é fruto de uma jornada muito pessoal do sujeito. Então há
também algo da ordem de uma passividade e de um caminho rumo a uma totalidade
misteriosa que é mais afetiva do que a frieza calculista dos dispositivos
disciplinares. Percebam que por mais que possam se articular, esses três pólos
são antagônicos entre si, pois afirmam um homem que é simultaneamente ativo e
passivo, autônomo e submisso, racional e afetivo, individual e coletivo, ou
seja, todas as contradições que permeiam a subjetividade ao longo da história
de nossa espécie. O problema é que os discursos de auto-ajuda tentam justamente
formar uma totalidade homogênea nessa dinâmica de opostos e, com isso, se
tornam perigosamente ideológicos e, por isso mesmo, extremamente sedutores.
Assim, podemos dizer que a literatura de auto-ajuda é nada mais que um
simulacro da crise da constituição subjetiva da modernidade do qual todos nós
somos herdeiros, inclusive a psicologia. Portanto, as psicologias e os
discursos de auto-ajuda referem-se a um mesmo contexto sócio-histórico de
origem, com a diferença que os segundos são uma versão mais homogênea e
ideológica dos primeiros. Mas isso não quer dizer que as psicologias não sofram
dos mesmos problemas que são explicitamente evidenciados nos discursos da
auto-ajuda, pelo contrário, o que se observa cada vez mais é uma dissolução
dessas fronteiras, na medida em que a sociedade pós-moderna do consumo, da
informação e da performance avança. Mas por mais que avance, esse afã humano
pela verdadeira e última verdade acaba sempre frustrado. Esse é o verdadeiro
segredo da fórmula da auto-ajuda: é preciso manter o mistério e a ilusão a um
palmo de distância, sempre a um triz de se esvanecer ou de se perder, como tudo
o que é mágico.
Diferentemente do que havia auge da tecnocracia e da razão instrumental
modernas, o mundo pós-moderno é marcado por uma busca pelo encanto perdido. Não
é à toa que a literatura de fantasia está se renovando, assim como as
paranoicas teorias da conspiração, sempre em busca de uma outra ordem simbólica
por trás da realidade compartilhada do senso comum. É claro que aqui estamos
falando do fenômeno dos livros de Dan Brown e seu paradigmático Código da Vinci, sobre a sociedade
secreta que guarda o segredo da descendência de Jesus Cristo e de Maria
Madalena, que alçou o gênero ao posto de ícone da cultura pop. Mas a demanda
pelo reencantamento do mundo é um pouco anterior, coincidindo, inclusive, com o
boom da auto-ajuda nos anos 1980. Foi
nessa primeira leva de misticismo ilustrado e disciplinado que Umberto Eco, o
famoso semiólogo italiano, escreveu o livro O
Pêndulo de Foucault. Podemos dizer que os livros de Dan Brown e congêneres
são uma versão fast-food da temática
que é trabalhada de forma densa e extensa por Eco nas mais de 600 páginas de
seu livro. Embora tenha um enredo muito mais complexo e uma perspectiva menos
maniqueísta e mais irônica da questão, a temática é a mesma: os intricados
meandros de um segredo guardado por gerações no seio de sociedades e seitas
secretas; um segredo que pode desestabilizar toda a ordem vigente de poder nas
instituições da cultura e na própria identidade do homem. Estão lá os maçons,
os templários, a riqueza simbólica das cidades europeias e a inesgotável
capacidade humana de buscar o sentido por trás de todo e qualquer acaso. O
autor explora divinamente essa angústia existencial que acompanha toda a
atividade hermenêutico-simbólica do homem que, no livro de Brown, é mera
coadjuvante de um thriller de ação!
Bem, não vou estragar a surpresa contando toda a história, apenas a sua
moral...
A moral da história é que o segredo é: manter o segredo!
Sim, incrédulo leitor, o segredo nada mais é acreditar que há um segredo.
É a crença e a fé de que o mundo se estrutura em torno de um sentido que nos
move! O homem é um ser simbólico, habitado pela linguagem. Chegamos assim em
uma segunda hipótese sobre o apelo da auto-ajuda: é um discurso que fomenta,
instiga e mantém nossa ilusão constitutiva no mistério e no segredo. A
auto-ajuda, em última instância, reassegura nossa crença de que há sentidos e
que esse é o sentido da vida humana.
Somente mais contemporaneamente os filósofos e acadêmicos passaram a
reconhecer que nossas culturas e nossas vidas nada mais são do que
"instalações" do humano: moradas de símbolos que construímos em torno
de nosso acaso constitutivo. Heidegger foi um dos pioneiros na chamada virada
linguística e pragmática na filosofia, quando a moderna concepção de sujeito
consciente e racional foi substituída por uma concepção menos autônoma e
positiva do que seja a subjetividade humana. Em sua ontologia existencial, ele
parte da concepção do ser (Dasein)
como uma abertura e disposição para a significação, entendendo que a linguagem
é o meio universal e constitutivo da experiência humana. Nessa perspectiva, o
ser é fundamentalmente uma negatividade, aquilo que sempre transcende às
possibilidades de nomeação e significação. Um herdeiro importante do pensamento
de Heidegger é Lacan, que articulou a problemática da subjetividade a outro
grande expoente das ciências da linguagem, o estruturalismo linguístico. Nessa
perspectiva, temos uma inversão nos papéis tradicionais acerca do pensamento.
Para o estruturalismo, a linguagem é que constitui o pensamento e as
identidades. É o sentido da linguagem que recorta o mundo e nós nos
constituímos passivamente por meio dessas operações simbólicas. Mais do que
isso, o estruturalismo vai definir que o sentido da linguagem é um produto da
diferença e que a significação não está nas coisas em si, mas nas relações que
os significantes ou palavras estabelecem entre si a partir da estrutura
simbólica universal. Essas transformações serão essenciais para uma
ressignificação da própria concepção de sujeito na psicanálise. Lacan mostrará
como o que é específico da condição humana é da ordem do desejo e a estrutura
do desejo remete a nossa capacidade simbólica. Em suma, a concepção de que o
desejo humano não tem um objeto específico, que ele é variável e fugaz, se alimentando
de sua própria efemeridade. Toda a força do desejo é que ele nunca se realiza,
pois quando se tem o que se deseja, subitamente aquilo perde a graça e o
encanto passa a estar logo mais adiante. Portanto, o desejo não tem essência,
não tem verdade última, não tem fim. A essência do desejo é o seu acaso e,
portanto, ele é uma negatividade fundamental de onde podem brotar todos os
nossos impulsos.
No final de sua obra, Lacan chamou de objeto
a essa coisa fundamental que habita o humano como uma pulsação sem nome, como
um furo em torno do qual gravita toda a subjetividade, tal qual a matéria envolve
o buraco negro no centro da galáxia ou a tempestade circunda o olho do furacão.
Estamos pois, de volta ao centro do espaço psicológico e ao território da ignorância.
Por isso o discurso da auto-ajuda é tão poderoso, pois ele aponta, sem revelar
para essa origem da condição humana e, com isso, traz amparo no desamparo. Mas
existem tantas outras coisas podem igualmente permitir a elaboração desse
desamparo: as religiões, a arte, o trabalho, o amor, a psicoterapia, etc.
A trágica condição humana
Depois desse percurso fica mais claro como a fórmula da auto-ajuda pode
ser tão eficaz e verdadeira, uma vez que o segredo está em tocar a essência
negativa da trágica condição existencial humana. Tentei argumentar que o
discurso da auto-ajuda é uma espécie de reverso da lógica constitutiva do
espaço psicológico da modernidade e, portanto, é um discurso legítimo e
pertinente a nossa situação contemporânea, embora se preste muito mais ao
alento da angústia do desamparo existencial e a saídas conformistas e passivas
para o sofrimento. Portanto, nós, pós-modernos, temos muito a aprender com a
crítica e interpretação dos discursos de auto-ajuda, na medida em que são
sintomáticos de nossa subjetivação contemporânea. Contudo, o que faz desse
gênero literário uma espécie de tentação é o seu apelo ao mais essencial de
nossa condição humana, que é nossa capacidade simbólica universal.
Talvez por conta disso Lacan tenha remetido sua discussão sobre o símbolo
às nossas origens culturais: a civilização grega. Ele foi buscar nos diálogos
de Platão uma ilustração de nosso desejo. No seu Seminário 8, sobre a transferência, Lacan analisa O banquete, de Platão, buscando elucidar
a origem do vínculo de desejo humano. Trata-se de um diálogo sobre o amor, onde
Sócrates é cortejado por diferentes personagens masculinos. Toda a questão gira
em torno do que é a essência do amor e ela converge para a ilustração de que o
amor de Sócrates é como um ágalma.
Ágalma é um objeto na forma de ornamento ou enfeite que guarda uma jóia ou
presente. Era utilizado como oferenda aos deuses na Grécia Antiga e seu
significado remete a essa distância que se coloca entre o verdadeiro objeto e
aquilo que se apresenta. Na trama do
diálogo de Platão, a interpretação Lacan acaba construindo é a de que esses
objetos representam aquilo que guarda um segredo que produz submissão às ordens
daquele que os possui, de forma tal que o véu que esconde a essência é o
verdadeiro encanto, sendo o objeto derradeiro descartável. Uma boa metáfora
para a noção de ágalma é compará-lo àquelas bonequinhas artesanais da cultura
russa, as matrioskas: uma série de
bonecas que se encaixam umas dentro das outras. Pois bem, o efeito do ágalma é o
que abrir essas bonecas proporciona, são camadas e camadas até se encontrar o nada.
Não há objeto último, a casca é a própria coisa!
Portanto, esse é o segredo da real e trágica condição humana que se
expressa, de forma massificada, pausterizada e comercializada na literatura de
auto-ajuda. Em tempo: o referido "Pêndulo" foi desenvolvido pelo
físico auto-didata francês "Leon Foucault" na metade do século XIX e
constituiu o primeiro experimento científico a comprovar a hipótese de que a
terra gira em torno do seu eixo. Linda metáfora para ilustrar nosso
constitutivo devir simbólico, não?
Bibliografia
FIGUEIREDO, L.
C. A invenção do psicológico: quatro
séculos de subjetivação. São Paulo: Escuta/Educ, 1992.
FIGUEIREDO, L.
C. Escutar, recordar, dizer: encontros
heideggerianos com a clínica psicanalítica. São Paulo: Escuta/EDUC, 1994.
HEIDEGGER,
Martin. Ser e Tempo. 15. ed.
Petrópolis: Vozes, 2005
LACAN, J. O Seminário, livro 8 - A transferência (1960- 1961). Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.
PLATÃO. O Banquete. 5. ed. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1991.
ECO, Umberto. O Pêndulo de Foucault. Rio de Janeiro: Record, 1989.
* Érico Bruno
Viana Campos é psicólogo, mestre e doutor em Psicologia pelo Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo. É professor assistente doutor do
departamento de psicologia da UNESP Bauru. Site pessoal: https://sites.google.com/site/ebcamposonline/.
Blog: http://interpretacoesdacultura.blogspot.com.br/
Assinar:
Comentários (Atom)


